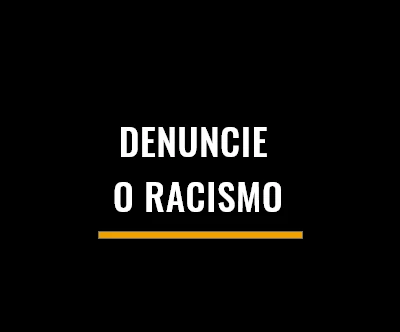STF vota em junho ação sobre quilombos.
Para antropólogos, decisão pode colocar em risco títulos de posse de terra emitidos para mais de 11 mil famílias.
Ação do DEM rejeita critério para identificar os remanescentes de quilombolas, hoje feita por autodeclaração.
O assunto explosivo da demarcação de remanescentes de quilombos entrará na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal na primeira quinzena de junho. A decisão pode pôr em risco até os 106 títulos já emitidos para 11.070 famílias com base na Constituição de 1988, temem antropólogos envolvidos no debate.
Essas famílias quilombolas obtiveram o reconhecimento da posse coletiva de uma área de 9.553 km2 desde 1995, parte dela após desapropriação de terras particulares. A área equivale a um Distrito Federal e meio, ou menos de 1 km2 por família.
Apesar de envolver áreas individuais muito menores que os 17 mil km2 da Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, espera-se uma polêmica similar à de dezembro de 2008, quando o STF manteve a demarcação contínua daquela área indígena.
O debate ficará restrito ao STF, porque não está prevista audiência pública, como nos casos de Raposa/Serra do Sol e das cotas raciais. O relator e atual presidente do Supremo, ministro Cezar Peluso, decidiu não convocá-la.
Quilombos reconhecidos recebem títulos de posse coletiva emitidos para a comunidade e não podem ser desmembrados nem vendidos. A posse coletiva também vale para terras indígenas homologadas, que integram o patrimônio da União.
Há cerca de mil outros processos sobre quilombos no Incra. Uma centena já avançou para as fases de identificação, delimitação, reconhecimento e desapropriação (no caso de terras privadas). Os processos em andamento totalizam 21.244 famílias, que viriam a ser beneficiadas com 19.541 km2 de terra – quase um Sergipe. O quinhão de 0,9 km2 por unidade familiar
se mantém.
O decreto que regulamenta o processo de demarcação de quilombos (n.º 4.887, de 2003) foi posto em questão em 2004 por ação direta de inconstitucionalidade do PFL (hoje DEM), que também luta contra as cotas raciais. O partido alega que a desapropriação, por criar despesa, teria de ser regulamentada por lei, não decreto. O DEM rejeita, ainda, o critério da autodeclaração para identificar remanescentes. Sua interpretação da Constituição condiciona o reconhecimento à posse efetiva do território em 1988, época da promulgação da Carta.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendem o decreto e a autodeclaração. Afirmam que não é o único critério para reconhecer um quilombo. A decisão final cabe ao poder público, apoiado em laudos antropológicos que atestem o vínculo com o território e sua necessidade para garantir a reprodução física e cultural do remanescente.
Para AGU e PGR, o decreto questionado dá consequência à intenção dos constituintes e à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que tem o Brasil como signatário. Não teria cabimento a distinção entre “remanescente” e “descendente” de quilombolas proposta pela ação do DEM.
NOVOS QUILOMBOS
A questão tem relação direta com a dos “direitos originais” dos índios às terras tradicionalmente ocupadas e “imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”, como prescreve o artigo 231 da Constituição.
Em ambos os casos a posse da terra teria a finalidade de garantir a sobrevivência da comunidade e sua cultura.
Nos dois campos, ganharam destaque recente supostos casos de fraudes, o que, aliado à iminência do julgamento, colocou antropólogos em pé de guerra. “Um voto contrário [ao decreto] anulará, ou pode anular, todas as demarcações de quilombos até agora”, afirma Carlos Caroso, presidente da ABA (Associação Brasileira de Antropologia).
TENDÊNCIAS/DEBATES
Quem está limitando o acesso às terras a “quem quer produzir” não são os
quilombolas, e sim a parte mais atrasada da pecuária
Está de volta, como de hábito às vésperas de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma velha campanha. Segundo seus promotores, as terras que são destinadas a quilombos (desta feita, é delas que o Supremo vai tratar), a índios e a unidades de conservação diminuiriam ainda mais o já pequeno território brasileiro acessível a “quem quer produzir”.
Como, entre essas terras subtraídas a “quem quer produzir”, são também
contabilizadas as cidades, conclui-se que esses promotores desejam transformar o Brasil numa grande fazenda. Voltaríamos às capitanias hereditárias?
Mas olhemos mais de perto. Analisando as áreas de conservação ambiental e as áreas indígenas, o Ipea, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, publicou, em dezembro de 2009, um estudo cujo título já diz tudo: chama-se “Unidades de Conservação e o Falso
Dilema entre Conservação e Desenvolvimento”. E, para quem acha que há áreas de conservação demais no Brasil, lembra que percentualmente à nossa parte do bioma floresta amazônica, estamos bem atrás de
Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia.
Segundo a análise que o IBGE faz do último Censo Agropecuário, a concentração de terras pouco se alterou entre 1985 e 2006: a pequena propriedade rural, menor do que 10 hectares, que representa quase metade do número de propriedades, ocupa 2,7% da área total de estabelecimentos rurais. No outro extremo, a grande propriedade, aquela acima de mil hectares, ocupa 43%. Se esta é mais rentável no absoluto, a pequena propriedade é mais racional no uso da terra e proporciona uma melhor distribuição de renda. Não só também “produz”, mas sabe-se que ela é quem garante a segurança alimentar no Brasil.
Mas vejamos como se distribui, quanto a terras, o agronegócio.
O professor Gerd Sparovek, da Escola Superior de Agricultura da USP, de Piracicaba, desenvolveu pesquisas com colaboradores brasileiros e suecos, que serviram para que a associação brasileira da indústria da cana-de-açúcar defendesse, diante da União Europeia, a compatibilidade da expansão do cultivo da cana com os compromissos ambientais do país.
Em um artigo publicado em 2007, Sparovek e seus colaboradores relembram que quem se apropria da maior parte das terras cultiváveis brasileiras é a pecuária.
Um estudo de 2003, de Cardille e Foley, mostrou que, entre 1980 e 1995, dos 25 milhões de hectares deflorestados, 54% tinham sido convertidos em pastos, e só 7% serviam para cultivo. Em 1995, a pecuária ocupava 73% do espaço agrícola.
A criação de gado bovino, essa grande responsável pelo desmatamento na Amazônia, continua sendo feita de maneira extensiva, com uma densidade inferior a um boi por hectare!
Segundo o IBGE, o gado confinado ou semiconfinado não passava de 2,5% do total de gado em 2005.
O subsídio implícito da grilagem de milhões de hectares na Amazônia torna mais rentável, como mostrou o Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), a criação extensiva do que o confinamento ou semiconfinamento. Mas rentável não equivale a racional.
Quem está limitando o acesso às terras a “quem quer produzir” não são, portanto, os índios, os quilombolas, as unidades de conservação e a pequena propriedade rural, e sim a parte tecnologicamente mais atrasada e predatória da pecuária. O resto é conversa para boi dormir, ou melhor, para influenciar o Supremo.
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA é antropóloga, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e da Universidade de Chicago.
É membro da Academia Brasileira de Ciências.